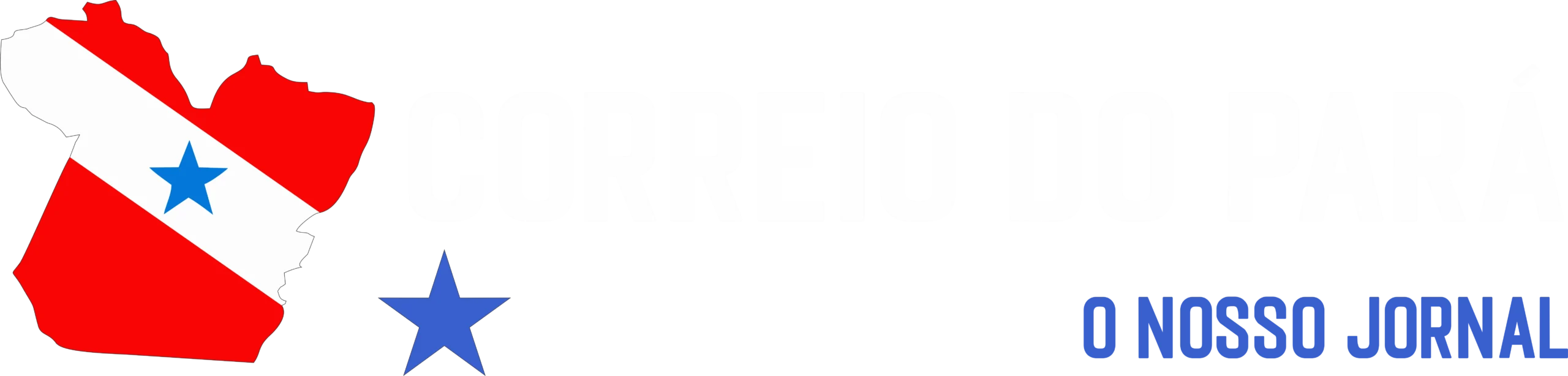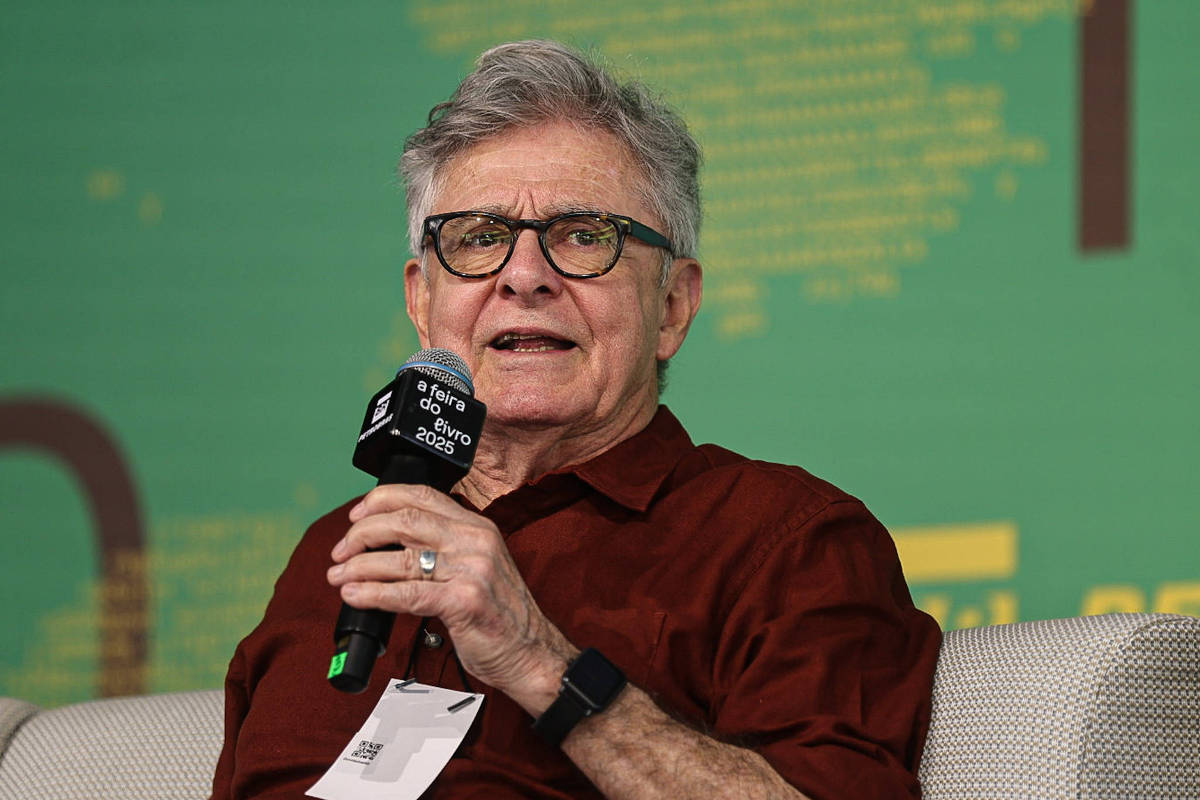A discussão já dura uns 50 anos. Apesar das evidências, volta e meia surge alguém dizendo que a crônica morreu. Morreu, mas passa bem. Uma das provas é um livro recém-lançado, “Um Milhão de Ruas”, no qual Fabrício Corsaletti passeia pela São Paulo de hoje com a mesma curiosidade e sofisticação de João do Rio no início do século 20.
Em “Viagem no País da Crônica”, que acaba de chegar às livrarias, Humberto Werneck põe fim a outra pendenga. O gênero chegou ao Brasil em 1852 trazido da França pelo diplomata Francisco Otaviano. Ruy Castro confirma a informação e acrescenta que Otaviano foi o primeiro a usar o termo flanar, versão do francês “flâner”.
É impossível chegar a um acordo, contudo, na hora de definir a crônica. Cansado de ouvir a pergunta, Rubem Braga saía pela tangente: “Se não é aguda, é crônica…”. Em seu ótimo livro, Werneck é taxativo num aspecto: “Jornalismo é que não é, pois não tem compromisso com a objetividade e a impessoalidade”.
Quando não está flanando em busca de inspiração para suas crônicas, Luís Henrique Pellanda passa o tempo a colecionar definições. Das mais aguçadas —”A azeitona do pastel cultural” (Paulo Mendes Campos), “A vida ao rés do chão” (Antonio Candido)— às mais provocativas: “O cronista é o sujeito se expondo” (Carlos Heitor Cony), “É a nossa autobustificação. Nossa autonomeação para assessor disso ou secretário daquilo outro” (Ivan Lessa).
Ao descrever o folhetinista de sua época (o avô do cronista), Machado de Assis acerta o alvo: “Na sociedade, ocupa o lugar do colibri na esfera vegetal; salta, esvoaça, brinca, tremula, paira e espaneja-se sobre todos os caules suculentos, sobre todas as seivas vigorosas. Todo o mundo lhe pertence, até mesmo a política”.
Animal cheio de disposição, a crônica, em sua longa trajetória, desenvolveu um apetite pantagruélico, engolindo diferentes formas de narrativa: o conto, o ensaio, o diário íntimo, o aforismo, a prosa poética, o relato de viagem, as cartas. Praticamente um gênero de vanguarda.
Fonte ==> Folha SP